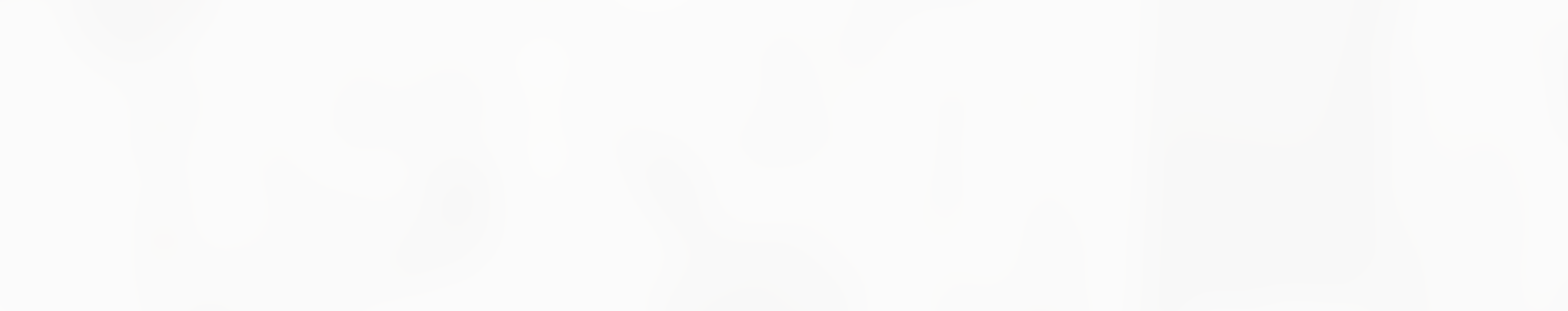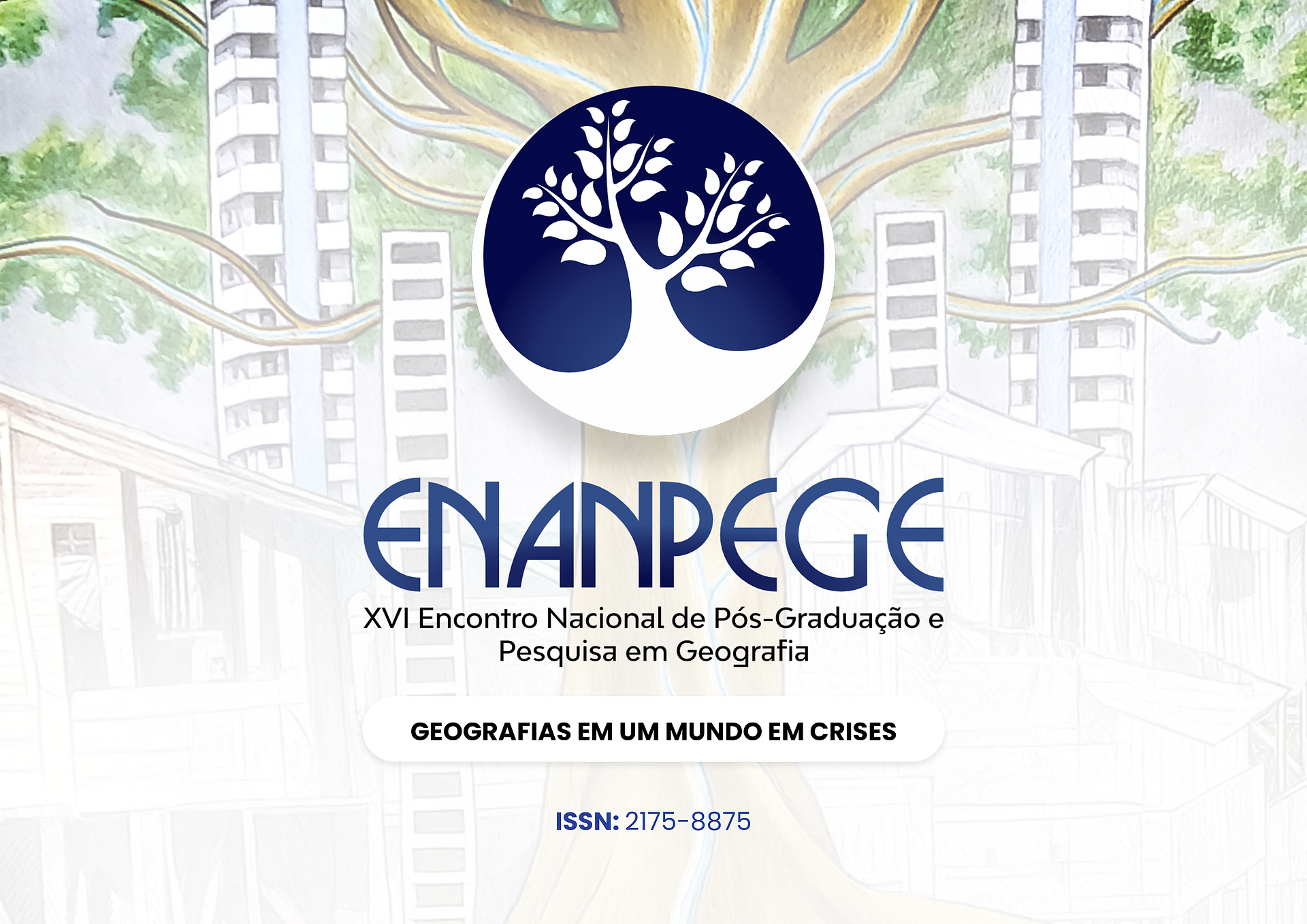RISCO SOCIAL FRENTE ÀS INUNDAÇÕES EM MARABÁ: UM ESTUDO DE CASO COM BASE EM INDICADORES SOCIAIS
"2025-11-28" // app/Providers/../Base/Publico/Artigo/resources/show_includes/info_artigo.blade.php
App\Base\Administrativo\Model\Artigo {#1845 // app/Providers/../Base/Publico/Artigo/resources/show_includes/info_artigo.blade.php #connection: "mysql" +table: "artigo" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] +preventsLazyLoading: false #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #escapeWhenCastingToString: false #attributes: array:35 [ "id" => 124444 "edicao_id" => 436 "trabalho_id" => 879 "inscrito_id" => 2194 "titulo" => "RISCO SOCIAL FRENTE ÀS INUNDAÇÕES EM MARABÁ: UM ESTUDO DE CASO COM BASE EM INDICADORES SOCIAIS" "resumo" => "INTRODUÇÃO A urbanização acelerada, sem planejamento adequado, agrava a vulnerabilidade social ao comprometer o acesso à moradia segura, saneamento e serviços básicos. Isso se reflete especialmente em cidades amazônicas, como Marabá, onde os núcleos urbanos desenvolveram-se em áreas de várzea, terraços fluviais ou tabuleiros baixos, regiões naturalmente sujeitas a inundações (SZLAFSZTEIN, 2012; LISBÔA, 2013). Nesses locais, a população pobre é desproporcionalmente afetada, evidenciando a relação entre risco ambiental e desigualdade socioespacial (RIBEIRO, 2014; SILVA JÚNIOR, 2010). Estudos recentes ressaltam a importância de se aplicar metodologias geográficas e socioambientais para mapear e compreender as áreas de risco e a vulnerabilidade associada à pobreza, densidade populacional e ocupação irregular (BRASIL, 2013; ANDRADE, 2014; MAGNO, 2019; PELLIZZARO et al., 2021). A cartografia social e os indicadores socioeconômicos, por exemplo, têm se mostrado ferramentas eficazes na identificação de áreas prioritárias para intervenção pública. O município de Marabá, localizado no sudeste do Pará, possui áreas urbanas frequentemente afetadas por inundações, especialmente nas proximidades dos rios Tocantins e Itacaiúnas. Esse tipo de desastre natural vem se intensificando com a expansão urbana desordenada, atrelada ao déficit de infraestrutura de drenagem e a ocupação de áreas de risco. Com crescimento urbano acelerado e carência de planejamento urbano, parte significativa da população encontra-se exposta aos riscos agravados por condições de vulnerabilidade social. Nesse contexto o objetivo desse trabalho foi analisar a vulnerabilidade social frente às inundações no perímetro urbano de Marabá (PA), considerando os indicadores de população total e renda domiciliar como parâmetros para a avaliação do risco. METODOLOGIA A área de estudo corresponde ao município de Marabá, localizado na região sudeste do estado do Pará, localizada às margens do rio Tocantins e Itacaiúnas, com uma população de 266.533 habitantes (IBGE, 2022). Situa-se entre as coordenadas geográficas: 5º 20’ 08’’ Latitude Sul/49º 04’ 51’’ Longitude Oeste e 5º 44’ 35’’ Latitude Sul/49º 13’ 50’’ Longitude Oeste. Possui uma altitude média de 142 metros em relação ao nível do mar. Sua área urbana corresponde a um total de 302,115 km2. O acesso a área de estudo pode ser realizado pelas rodovias PA-150, BR-222, BR-230 (Transamazônica) e pela vicinal do Rio Preto. O relevo predominante no perímetro urbano de Marabá caracteriza-se pelas planícies de inundação, terraços fluviais rebaixados, tabuleiros dissecados e planaltos dissecados. O perímetro urbano de Marabá é composto de 265 setores censitários, sendo 240 urbanos e 25 rurais. Os setores urbanos podem ser compatíveis com as escalas cartográficas que variam de 1:4.000 a 1:65.000, e os setores rurais variam entre 1:5.000 a 1:100.000. Para o mapeamento da vulnerabilidade social da área em estudo, levamos em consideração os parâmetros metodológicos definidos por Szlafsztein et al. (2010) e Andrade e Szlafsztein (2018) já utilizados para a Amazônia. Os dados de população total dos setores e de renda para o cálculo do índice de vulnerabilidade social foram obtidos junto ao IBGE (2010) e foram tratados em ambiente SIG (Quadro 1). Quadro 1 - Variáveis utilizadas para a construção do índice de vulnerabilidade social. Variáveis\tSigla\tDefinição\tImportância População Total do Setor PT\tProporção (%) da população total por setor censitário que corresponde à população do município.\tA população que habita locais suscetíveis a algum tipo de ameaça natural, aumenta sua vulnerabilidade (Katayama, 1993). Nível de Pobreza P\tProporção da população por setor censitário, correspondente a chefes de famílias com rendimento menor que 2 salários mínimos.\tCaracteriza-se pela carência das pessoas ao acesso a recursos, resultando na maioria dos casos na marginalização social, transformando essa parcela da população no alvo principal dos desastres e das mudanças climáticas (Szlafsztein, 1995). Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Szlafsztein et al. (2010). Para a elaboração do Índice Vulnerabilidade Social (IVS) foi levado em consideração a seguinte equação, com base em Szlafsztein et al. (2010). A vulnerabilidade foi obtida a partir da soma dos valores de duas variáveis consideradas por cada tipo de vulnerabilidade, onde: IVS = (VPT + VP) VPT=Vulnerabilidade da População Total. VP=Vulnerabilidade pelo Nível de Pobreza. Portanto, a soma das vulnerabilidades possibilitou a classificação de cada setor censitário em baixa vulnerabilidade (para soma entre 1-3) (valor 1), média vulnerabilidade (para soma igual a 4) (valor 2) e alta vulnerabilidade (para soma entre 5-6) (valor 3) (Tabela 1). Os resultados obtidos com a soma das varáveis de vulnerabilidade foram classificados de acordo com a metodologia adaptada de Szlafsztein et al. (2010) e Andrade e Szlafsztein (2018). Tabela 1: Classificação de vulnerabilidade segundo agrupamento das variáveis sociais por setor censitário. Vulnerabilidade\tClassificação (valor)\tPopulação Total\tPopulação Pobre Baixa\t1\tAté 10%\tAté 30% Média\t2\t10 a 20%\t30 a 50% Alta\t3\tMais de 20%\tAcima de 50% Fonte: Elaborado pelo autor com base em Szlafsztein et al. (2010) e Andrade e Szlafsztein (2018) Após a análise da vulnerabilidade da população total e renda, esses dados foram agrupados e classificados de acordo com seus níveis e condições de vulnerabilidade baixa, média e alta (Tabela 2). Após a aplicação da fórmula destacada em tópico anterior, gerou-se o mapa síntese de vulnerabilidade social. Tabela 2 – Classificação da vulnerabilidade dos setores censitários segundo seu grau de Vulnerabilidade social. Classificação da Vulnerabilidade\tIntervalo Calculado do IVS\tIVS Total Baixa\t1-3\t1 Média\t4\t2 Alta\t5-6\t3 Fonte: Adaptado de Szlafsztein et al. (2010) e Andrade e Szlafsztein (2018). RESULTADOS E DISCUSSÃO Vulnerabilidade População Total (PT) A distribuição da densidade populacional nos núcleos urbanos de Marabá revela padrões distintos de ocupação e diferentes níveis de vulnerabilidade frente às inundações. No núcleo São Félix, predominam áreas com baixa densidade (até 10 hab./km²), especialmente nas porções periféricas, sugerindo uma ocupação esparsa e menor exposição direta a riscos hidrológicos, embora a carência de infraestrutura urbana possa representar vulnerabilidades indiretas. Já o núcleo Nova Marabá concentra maior densidade demográfica em setores centrais (90 a 268 hab./km²), em áreas relativamente protegidas da suscetibilidade à inundação, o que evidencia um padrão de urbanização mais planejado e com menor vulnerabilidade social. Em contraste, a Marabá Pioneira apresenta significativa concentração populacional em áreas de alta suscetibilidade à inundação, com densidades elevadas (70 a 268 hab./km²) sobrepostas a zonas de risco, indicando uma situação crítica de vulnerabilidade social e ambiental. Cidade Nova, por sua vez, exibe uma configuração mista: setores periféricos com densidade intermediária em áreas vulneráveis coexistem com setores centrais mais densamente povoados e situados fora das zonas de maior risco. Esses resultados reforçam a importância de considerar a relação entre adensamento populacional e localização geográfica nas estratégias de gestão de risco e planejamento urbano. Nível de Pobreza (P) A análise da distribuição da renda média mensal por setor censitário nos núcleos urbanos de Marabá revelou uma forte relação entre baixa renda e alta vulnerabilidade socioambiental. No núcleo São Félix, a maioria dos setores apresenta renda de até 3 salários mínimos (SM), com cinco setores na faixa de extrema pobreza (0–1 SM), evidenciando um quadro de exposição significativa, agravado pela precariedade da infraestrutura urbana. Na Marabá Pioneira, embora exista certa diversidade de rendimentos, a presença de setores com baixa renda (até 2 SM) em áreas de risco indica desigualdade interna e diferentes níveis de capacidade adaptativa frente às inundações. Nos núcleos Nova Marabá e Cidade Nova, observou-se maior heterogeneidade. Nova Marabá concentra setores com rendas mais elevadas nas áreas centrais (acima de 7 SM), mas ainda abriga populações de baixa renda próximas às margens dos rios, em zonas de alta suscetibilidade. Cidade Nova, por sua vez, apresenta um grande número de setores com renda superior a 5 SM, indicando melhores condições socioeconômicas em parte significativa do núcleo, embora coexistam com áreas de pobreza que permanecem expostas a eventos hidrometeorológicos. Os resultados destacam a desigualdade na distribuição espacial da renda e sua correlação com os riscos socioambientais no perímetro urbano de Marabá. CONSIDERAÇÕES FINAIS O estudo analisou a vulnerabilidade social frente às inundações no perímetro urbano de Marabá (PA), com base em indicadores como população total e renda domiciliar. Os resultados demonstram que os setores censitários com maior densidade populacional e menor renda concentram-se justamente nas áreas de maior suscetibilidade a inundações, evidenciando uma forte relação entre desigualdade socioespacial e risco de desastre. Núcleos como Marabá Pioneira e Cidade Nova apresentam populações numerosas em regiões críticas, enquanto São Félix e áreas periféricas da Nova Marabá abrigam moradores com baixa renda expostos a eventos hidrometeorológicos recorrentes. Esse cenário reforça a urgência de políticas públicas integradas e contínuas voltadas à redução da vulnerabilidade, ao ordenamento territorial e à proteção das populações mais afetadas. Palavras-chave: Vulnerabilidade Social; Inundações Urbanas; Risco Socioambiental; Indicadores Sociais; Marabá (PA). REFERÊNCIAS ANDRADE, L. C. de. Dinâmica urbana e riscos socioambientais em áreas de várzea na Amazônia: estudo de caso em Abaetetuba-PA. 2014. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. BRASIL. Ministério das Cidades. Diretrizes para o mapeamento e gestão de áreas de risco em assentamentos precários. Brasília: Ministério das Cidades, 2007. BURSZTYN, M.; BURSZTYN, M. A. Fundamentos de política e gestão ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2013. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010: características da população e dos domicílios – resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: Resultados populacionais por município. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/maraba.html. Acesso em: 30 abr. 2025. LISBÔA, L. C. M. Risco e vulnerabilidade socioambiental: um estudo no município de Santarém-PA. 2013. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. MAGNO, A. A. Riscos e vulnerabilidades ambientais na Amazônia urbana: uma abordagem integrada em áreas de inundação. 2019. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. PEREIRA, A. A. Planejamento urbano e risco de inundações na Amazônia: o caso de Santarém-PA. 2014. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. QUINTAIROS, R. M. A cidade e a várzea: a dinâmica urbana e os riscos ambientais na planície de inundação em Belém/PA. 2012. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2012. SZLAFSZTEIN, C. F. et al. Avaliação e gestão de riscos naturais na Amazônia brasileira. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 3, n. 4, p. 815–830, 2010. SZLAFSZTEIN, C. F. Vulnerabilidade socioambiental urbana: um desafio contemporâneo na Amazônia. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 14, n. 28, p. 231–247, 2012. UNDRR – UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva: UNDRR, 2015." "modalidade" => "Comunicação Oral" "area_tematica" => "GT 49: GEOGRAFIA COSTEIRA E MARINHA: RISCOS, IMPACTOS, DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO COSTEIRA" "palavra_chave" => ", , , , " "idioma" => "Português" "arquivo" => "TRABALHO_COMPLETO_EV223_ID2194_TB879_17092025180810.pdf" "created_at" => "2025-11-28 14:08:46" "updated_at" => null "ativo" => 1 "autor_nome" => "MARLISSON LOPES DE ARAUJO" "autor_nome_curto" => "MARLISSON" "autor_email" => "marlissonlopes20@gmail.com" "autor_ies" => "UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)" "autor_imagem" => "" "edicao_url" => "anais-do-xvi-encontro-nacional-de-pos-graduacao-e-pesquisa-em-geografia" "edicao_nome" => "Anais do XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia" "edicao_evento" => "XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia" "edicao_ano" => 2025 "edicao_pasta" => "anais/enanpege/2025" "edicao_logo" => null "edicao_capa" => "692988483d31e_28112025083224.png" "data_publicacao" => "2025-11-28" "edicao_publicada_em" => "2025-11-27 15:13:16" "publicacao_id" => 79 "publicacao_nome" => "Revista ENANPEGE" "publicacao_codigo" => "2175-8875" "tipo_codigo_id" => 1 "tipo_codigo_nome" => "ISSN" "tipo_publicacao_id" => 1 "tipo_publicacao_nome" => "ANAIS de Evento" ] #original: array:35 [ "id" => 124444 "edicao_id" => 436 "trabalho_id" => 879 "inscrito_id" => 2194 "titulo" => "RISCO SOCIAL FRENTE ÀS INUNDAÇÕES EM MARABÁ: UM ESTUDO DE CASO COM BASE EM INDICADORES SOCIAIS" "resumo" => "INTRODUÇÃO A urbanização acelerada, sem planejamento adequado, agrava a vulnerabilidade social ao comprometer o acesso à moradia segura, saneamento e serviços básicos. Isso se reflete especialmente em cidades amazônicas, como Marabá, onde os núcleos urbanos desenvolveram-se em áreas de várzea, terraços fluviais ou tabuleiros baixos, regiões naturalmente sujeitas a inundações (SZLAFSZTEIN, 2012; LISBÔA, 2013). Nesses locais, a população pobre é desproporcionalmente afetada, evidenciando a relação entre risco ambiental e desigualdade socioespacial (RIBEIRO, 2014; SILVA JÚNIOR, 2010). Estudos recentes ressaltam a importância de se aplicar metodologias geográficas e socioambientais para mapear e compreender as áreas de risco e a vulnerabilidade associada à pobreza, densidade populacional e ocupação irregular (BRASIL, 2013; ANDRADE, 2014; MAGNO, 2019; PELLIZZARO et al., 2021). A cartografia social e os indicadores socioeconômicos, por exemplo, têm se mostrado ferramentas eficazes na identificação de áreas prioritárias para intervenção pública. O município de Marabá, localizado no sudeste do Pará, possui áreas urbanas frequentemente afetadas por inundações, especialmente nas proximidades dos rios Tocantins e Itacaiúnas. Esse tipo de desastre natural vem se intensificando com a expansão urbana desordenada, atrelada ao déficit de infraestrutura de drenagem e a ocupação de áreas de risco. Com crescimento urbano acelerado e carência de planejamento urbano, parte significativa da população encontra-se exposta aos riscos agravados por condições de vulnerabilidade social. Nesse contexto o objetivo desse trabalho foi analisar a vulnerabilidade social frente às inundações no perímetro urbano de Marabá (PA), considerando os indicadores de população total e renda domiciliar como parâmetros para a avaliação do risco. METODOLOGIA A área de estudo corresponde ao município de Marabá, localizado na região sudeste do estado do Pará, localizada às margens do rio Tocantins e Itacaiúnas, com uma população de 266.533 habitantes (IBGE, 2022). Situa-se entre as coordenadas geográficas: 5º 20’ 08’’ Latitude Sul/49º 04’ 51’’ Longitude Oeste e 5º 44’ 35’’ Latitude Sul/49º 13’ 50’’ Longitude Oeste. Possui uma altitude média de 142 metros em relação ao nível do mar. Sua área urbana corresponde a um total de 302,115 km2. O acesso a área de estudo pode ser realizado pelas rodovias PA-150, BR-222, BR-230 (Transamazônica) e pela vicinal do Rio Preto. O relevo predominante no perímetro urbano de Marabá caracteriza-se pelas planícies de inundação, terraços fluviais rebaixados, tabuleiros dissecados e planaltos dissecados. O perímetro urbano de Marabá é composto de 265 setores censitários, sendo 240 urbanos e 25 rurais. Os setores urbanos podem ser compatíveis com as escalas cartográficas que variam de 1:4.000 a 1:65.000, e os setores rurais variam entre 1:5.000 a 1:100.000. Para o mapeamento da vulnerabilidade social da área em estudo, levamos em consideração os parâmetros metodológicos definidos por Szlafsztein et al. (2010) e Andrade e Szlafsztein (2018) já utilizados para a Amazônia. Os dados de população total dos setores e de renda para o cálculo do índice de vulnerabilidade social foram obtidos junto ao IBGE (2010) e foram tratados em ambiente SIG (Quadro 1). Quadro 1 - Variáveis utilizadas para a construção do índice de vulnerabilidade social. Variáveis\tSigla\tDefinição\tImportância População Total do Setor PT\tProporção (%) da população total por setor censitário que corresponde à população do município.\tA população que habita locais suscetíveis a algum tipo de ameaça natural, aumenta sua vulnerabilidade (Katayama, 1993). Nível de Pobreza P\tProporção da população por setor censitário, correspondente a chefes de famílias com rendimento menor que 2 salários mínimos.\tCaracteriza-se pela carência das pessoas ao acesso a recursos, resultando na maioria dos casos na marginalização social, transformando essa parcela da população no alvo principal dos desastres e das mudanças climáticas (Szlafsztein, 1995). Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Szlafsztein et al. (2010). Para a elaboração do Índice Vulnerabilidade Social (IVS) foi levado em consideração a seguinte equação, com base em Szlafsztein et al. (2010). A vulnerabilidade foi obtida a partir da soma dos valores de duas variáveis consideradas por cada tipo de vulnerabilidade, onde: IVS = (VPT + VP) VPT=Vulnerabilidade da População Total. VP=Vulnerabilidade pelo Nível de Pobreza. Portanto, a soma das vulnerabilidades possibilitou a classificação de cada setor censitário em baixa vulnerabilidade (para soma entre 1-3) (valor 1), média vulnerabilidade (para soma igual a 4) (valor 2) e alta vulnerabilidade (para soma entre 5-6) (valor 3) (Tabela 1). Os resultados obtidos com a soma das varáveis de vulnerabilidade foram classificados de acordo com a metodologia adaptada de Szlafsztein et al. (2010) e Andrade e Szlafsztein (2018). Tabela 1: Classificação de vulnerabilidade segundo agrupamento das variáveis sociais por setor censitário. Vulnerabilidade\tClassificação (valor)\tPopulação Total\tPopulação Pobre Baixa\t1\tAté 10%\tAté 30% Média\t2\t10 a 20%\t30 a 50% Alta\t3\tMais de 20%\tAcima de 50% Fonte: Elaborado pelo autor com base em Szlafsztein et al. (2010) e Andrade e Szlafsztein (2018) Após a análise da vulnerabilidade da população total e renda, esses dados foram agrupados e classificados de acordo com seus níveis e condições de vulnerabilidade baixa, média e alta (Tabela 2). Após a aplicação da fórmula destacada em tópico anterior, gerou-se o mapa síntese de vulnerabilidade social. Tabela 2 – Classificação da vulnerabilidade dos setores censitários segundo seu grau de Vulnerabilidade social. Classificação da Vulnerabilidade\tIntervalo Calculado do IVS\tIVS Total Baixa\t1-3\t1 Média\t4\t2 Alta\t5-6\t3 Fonte: Adaptado de Szlafsztein et al. (2010) e Andrade e Szlafsztein (2018). RESULTADOS E DISCUSSÃO Vulnerabilidade População Total (PT) A distribuição da densidade populacional nos núcleos urbanos de Marabá revela padrões distintos de ocupação e diferentes níveis de vulnerabilidade frente às inundações. No núcleo São Félix, predominam áreas com baixa densidade (até 10 hab./km²), especialmente nas porções periféricas, sugerindo uma ocupação esparsa e menor exposição direta a riscos hidrológicos, embora a carência de infraestrutura urbana possa representar vulnerabilidades indiretas. Já o núcleo Nova Marabá concentra maior densidade demográfica em setores centrais (90 a 268 hab./km²), em áreas relativamente protegidas da suscetibilidade à inundação, o que evidencia um padrão de urbanização mais planejado e com menor vulnerabilidade social. Em contraste, a Marabá Pioneira apresenta significativa concentração populacional em áreas de alta suscetibilidade à inundação, com densidades elevadas (70 a 268 hab./km²) sobrepostas a zonas de risco, indicando uma situação crítica de vulnerabilidade social e ambiental. Cidade Nova, por sua vez, exibe uma configuração mista: setores periféricos com densidade intermediária em áreas vulneráveis coexistem com setores centrais mais densamente povoados e situados fora das zonas de maior risco. Esses resultados reforçam a importância de considerar a relação entre adensamento populacional e localização geográfica nas estratégias de gestão de risco e planejamento urbano. Nível de Pobreza (P) A análise da distribuição da renda média mensal por setor censitário nos núcleos urbanos de Marabá revelou uma forte relação entre baixa renda e alta vulnerabilidade socioambiental. No núcleo São Félix, a maioria dos setores apresenta renda de até 3 salários mínimos (SM), com cinco setores na faixa de extrema pobreza (0–1 SM), evidenciando um quadro de exposição significativa, agravado pela precariedade da infraestrutura urbana. Na Marabá Pioneira, embora exista certa diversidade de rendimentos, a presença de setores com baixa renda (até 2 SM) em áreas de risco indica desigualdade interna e diferentes níveis de capacidade adaptativa frente às inundações. Nos núcleos Nova Marabá e Cidade Nova, observou-se maior heterogeneidade. Nova Marabá concentra setores com rendas mais elevadas nas áreas centrais (acima de 7 SM), mas ainda abriga populações de baixa renda próximas às margens dos rios, em zonas de alta suscetibilidade. Cidade Nova, por sua vez, apresenta um grande número de setores com renda superior a 5 SM, indicando melhores condições socioeconômicas em parte significativa do núcleo, embora coexistam com áreas de pobreza que permanecem expostas a eventos hidrometeorológicos. Os resultados destacam a desigualdade na distribuição espacial da renda e sua correlação com os riscos socioambientais no perímetro urbano de Marabá. CONSIDERAÇÕES FINAIS O estudo analisou a vulnerabilidade social frente às inundações no perímetro urbano de Marabá (PA), com base em indicadores como população total e renda domiciliar. Os resultados demonstram que os setores censitários com maior densidade populacional e menor renda concentram-se justamente nas áreas de maior suscetibilidade a inundações, evidenciando uma forte relação entre desigualdade socioespacial e risco de desastre. Núcleos como Marabá Pioneira e Cidade Nova apresentam populações numerosas em regiões críticas, enquanto São Félix e áreas periféricas da Nova Marabá abrigam moradores com baixa renda expostos a eventos hidrometeorológicos recorrentes. Esse cenário reforça a urgência de políticas públicas integradas e contínuas voltadas à redução da vulnerabilidade, ao ordenamento territorial e à proteção das populações mais afetadas. Palavras-chave: Vulnerabilidade Social; Inundações Urbanas; Risco Socioambiental; Indicadores Sociais; Marabá (PA). REFERÊNCIAS ANDRADE, L. C. de. Dinâmica urbana e riscos socioambientais em áreas de várzea na Amazônia: estudo de caso em Abaetetuba-PA. 2014. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. BRASIL. Ministério das Cidades. Diretrizes para o mapeamento e gestão de áreas de risco em assentamentos precários. Brasília: Ministério das Cidades, 2007. BURSZTYN, M.; BURSZTYN, M. A. Fundamentos de política e gestão ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2013. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010: características da população e dos domicílios – resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: Resultados populacionais por município. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/maraba.html. Acesso em: 30 abr. 2025. LISBÔA, L. C. M. Risco e vulnerabilidade socioambiental: um estudo no município de Santarém-PA. 2013. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. MAGNO, A. A. Riscos e vulnerabilidades ambientais na Amazônia urbana: uma abordagem integrada em áreas de inundação. 2019. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2019. PEREIRA, A. A. Planejamento urbano e risco de inundações na Amazônia: o caso de Santarém-PA. 2014. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. QUINTAIROS, R. M. A cidade e a várzea: a dinâmica urbana e os riscos ambientais na planície de inundação em Belém/PA. 2012. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2012. SZLAFSZTEIN, C. F. et al. Avaliação e gestão de riscos naturais na Amazônia brasileira. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 3, n. 4, p. 815–830, 2010. SZLAFSZTEIN, C. F. Vulnerabilidade socioambiental urbana: um desafio contemporâneo na Amazônia. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 14, n. 28, p. 231–247, 2012. UNDRR – UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva: UNDRR, 2015." "modalidade" => "Comunicação Oral" "area_tematica" => "GT 49: GEOGRAFIA COSTEIRA E MARINHA: RISCOS, IMPACTOS, DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO COSTEIRA" "palavra_chave" => ", , , , " "idioma" => "Português" "arquivo" => "TRABALHO_COMPLETO_EV223_ID2194_TB879_17092025180810.pdf" "created_at" => "2025-11-28 14:08:46" "updated_at" => null "ativo" => 1 "autor_nome" => "MARLISSON LOPES DE ARAUJO" "autor_nome_curto" => "MARLISSON" "autor_email" => "marlissonlopes20@gmail.com" "autor_ies" => "UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)" "autor_imagem" => "" "edicao_url" => "anais-do-xvi-encontro-nacional-de-pos-graduacao-e-pesquisa-em-geografia" "edicao_nome" => "Anais do XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia" "edicao_evento" => "XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia" "edicao_ano" => 2025 "edicao_pasta" => "anais/enanpege/2025" "edicao_logo" => null "edicao_capa" => "692988483d31e_28112025083224.png" "data_publicacao" => "2025-11-28" "edicao_publicada_em" => "2025-11-27 15:13:16" "publicacao_id" => 79 "publicacao_nome" => "Revista ENANPEGE" "publicacao_codigo" => "2175-8875" "tipo_codigo_id" => 1 "tipo_codigo_nome" => "ISSN" "tipo_publicacao_id" => 1 "tipo_publicacao_nome" => "ANAIS de Evento" ] #changes: [] #casts: array:14 [ "id" => "integer" "edicao_id" => "integer" "trabalho_id" => "integer" "inscrito_id" => "integer" "titulo" => "string" "resumo" => "string" "modalidade" => "string" "area_tematica" => "string" "palavra_chave" => "string" "idioma" => "string" "arquivo" => "string" "created_at" => "datetime" "updated_at" => "datetime" "ativo" => "boolean" ] #classCastCache: [] #attributeCastCache: [] #dates: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: false #hidden: [] #visible: [] +fillable: array:13 [ 0 => "edicao_id" 1 => "trabalho_id" 2 => "inscrito_id" 3 => "titulo" 4 => "resumo" 5 => "modalidade" 6 => "area_tematica" 7 => "palavra_chave" 8 => "idioma" 9 => "arquivo" 10 => "created_at" 11 => "updated_at" 12 => "ativo" ] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] }