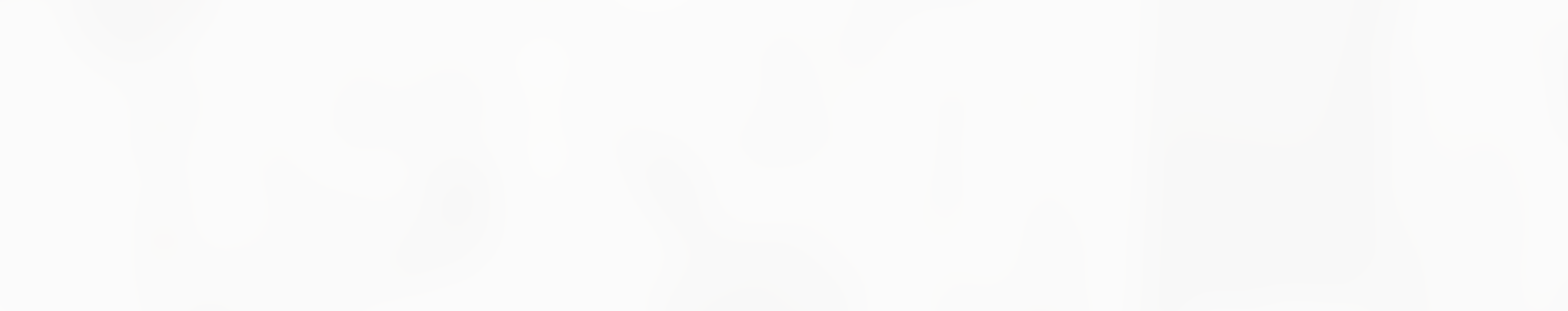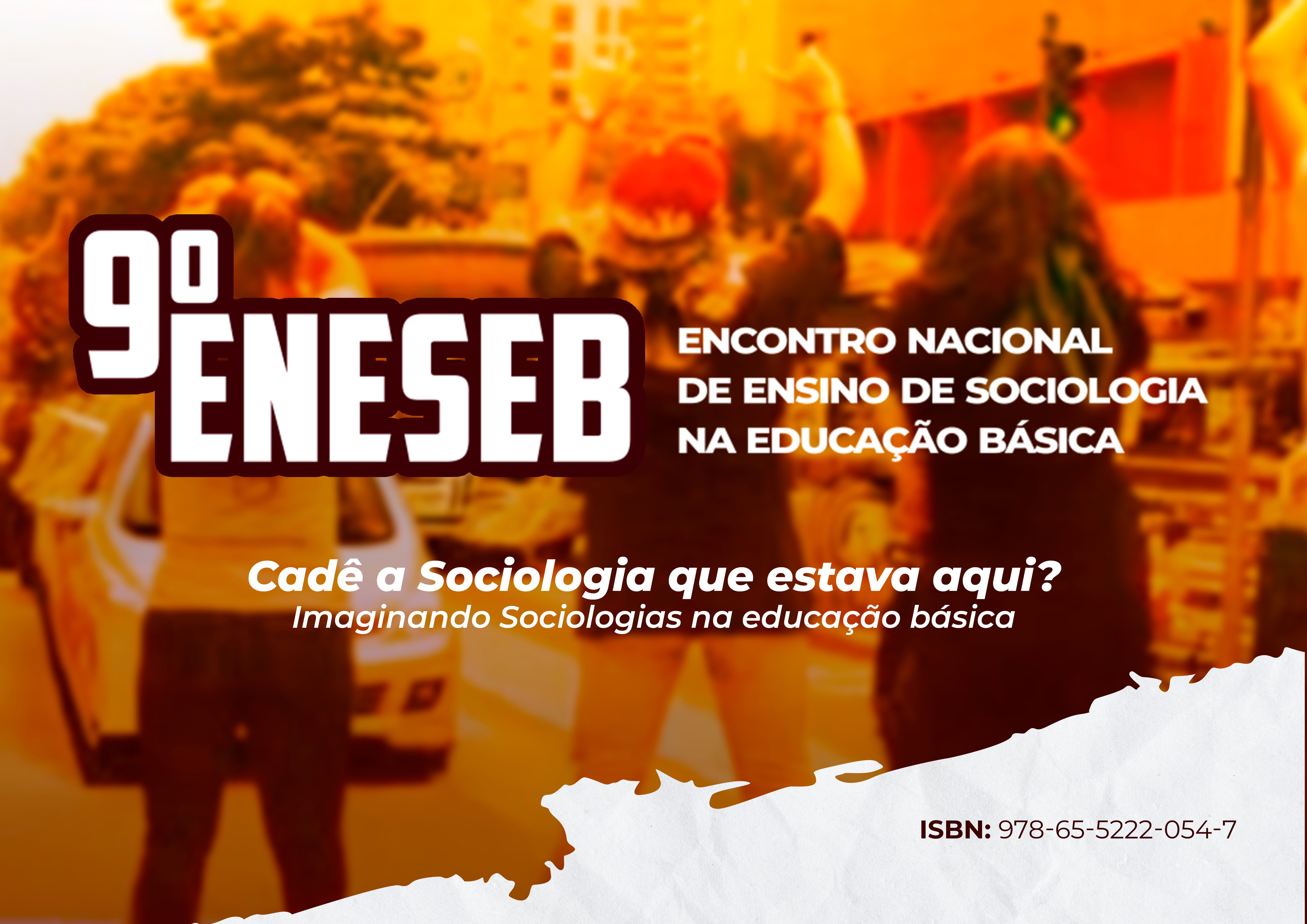MONTANDO O QUEBRA-CABEÇA: DESMONTAGEM E ANÁLISE FÍLMICA
"2025-07-18 09:24:06" // app/Providers/../Base/Publico/Artigo/resources/show_includes/info_artigo.blade.php
App\Base\Administrativo\Model\Artigo {#1845 // app/Providers/../Base/Publico/Artigo/resources/show_includes/info_artigo.blade.php #connection: "mysql" +table: "artigo" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] +preventsLazyLoading: false #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #escapeWhenCastingToString: false #attributes: array:35 [ "id" => 122082 "edicao_id" => 404 "trabalho_id" => 124 "inscrito_id" => 223 "titulo" => "MONTANDO O QUEBRA-CABEÇA: DESMONTAGEM E ANÁLISE FÍLMICA" "resumo" => "INTRODUÇÃO Esta proposta apresenta a oficina Montando o Quebra-Cabeça: Desmontagem e Análise Fílmica, concebida como intervenção pedagógica vinculada ao Programa de Mestrado Profissional em Sociologia em Rede Nacional (PROFSOCIO/UFPR). O objetivo da oficina foi sensibilizar docentes para o uso crítico da linguagem cinematográfica no ensino, articulando os conceitos de letramento audiovisual e imaginação sociológica. O conceito de imaginação sociológica, formulado por Mills (1969), estrutura a proposta. Para o autor, essa habilidade conecta vivências pessoais às estruturas sociais, permitindo compreender que as biografias estão inseridas em contextos culturais e políticos. A oficina propôs, assim, o cinema como linguagem que reflete e constrói realidades sociais. Com base em Soares (2009) e Kleiman (1995), o letramento é entendido como prática social crítica, que ultrapassa a alfabetização técnica. A linguagem audiovisual, nesse contexto, é carregada de sentidos e ideologias. Formar professores para seu uso crítico é também formar sujeitos aptos a ler e intervir no mundo, exercitando a imaginação sociológica. O letramento audiovisual torna-se, portanto, relevante na formação docente, pois desenvolve competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como a expressão por múltiplas linguagens e o uso ético das tecnologias digitais (competências 4 e 5). Para isso, é fundamental investir em formação continuada. Como defende Imbernón (2000), essa formação deve ser crítica, contínua e voltada à transformação das práticas escolares. Com apoio em autores como Vanoye e Goliot-Lété (2012), Metz (1980), Berger e Luckmann (2004) e Münsterberg (2018), a oficina propôs uma abordagem formativa e experiencial para a análise técnica e simbólica do curta Baile (2019), de Cíntia Domit Bittar. A experiência articulou saberes docentes, vivências pessoais e reflexão coletiva, promovendo uma leitura sociológica de uma narrativa marcada pela intersecção entre raça, gênero e espaço público. METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS) A oficina foi organizada em três momentos principais: exibição do curta-metragem Baile (2019); roda de conversa seguida da análise coletiva de uma cena específica (entre os minutos 10:30 e 11:01); e, por fim, uma atividade em grupos. Nessa última etapa, cada grupo trabalhou com um frame do filme, acompanhado de um conjunto de perguntas estruturadas com base nos principais elementos da linguagem cinematográfica: enquadramento, ângulo, mise-en-scène, som e articulação entre eles. As perguntas foram formuladas para estimular a construção de sentidos a partir dos aspectos técnicos analisados, promovendo a identificação de significados sociais implícitos nas imagens. Em vez de conduzir a respostas padronizadas, o material incentivava a interpretação aberta, com questões como: “Que emoções esta imagem desperta?”, “O que os objetos e o figurino dizem sobre a personagem?”, “Há ausência de som? O que isso comunica?”. As produções dos grupos foram sistematizadas em sínteses visuais que reuniam palavras-chave, impressões e interpretações compartilhadas. Além disso, as observações etnográficas possibilitaram compreender como os grupos se envolveram com a atividade e articularam estratégias para interpretar coletivamente os elementos visuais e registrar suas leituras de forma colaborativa. DESENVOLVIMENTO/REFERENCIAL TEÓRICO As análises produzidas da oficina revelaram que os participantes ativaram a imaginação sociológica por meio da leitura crítica de elementos técnicos e simbólicos do filme. A partir de perguntas estruturadas, as respostas demonstraram relações entre emoções, questões sociológicas e interpretações subjetivas, evidenciando que os docentes reconheceram a linguagem cinematográfica como ferramenta de reflexão sobre desigualdades sociais, gênero e pertencimento racial. Nesse processo, o conceito de letramento audiovisual é central: compreendido como a capacidade de ler criticamente as imagens, os sons e as estruturas narrativas (Soares, 2009; Kleiman, 1995), o letramento vai além da decodificação técnica, exigindo a construção de sentidos sociais e culturais. A oficina, ao propor a análise de frames do curta Baile (2019), mobilizou nos docentes uma leitura de mundo por meio da interpretação de imagem, promovendo inserção crítica nas práticas comunicativas contemporâneas. Nesse sentido, ao conceber o cinema como hipótese de alteridade, Fresquet (2013) propõe romper rotinas escolares e criar um espaço formativo em que docentes experimentem a linguagem cinematográfica como exercício crítico e sensível. Trata-se, mais do que inserir o cinema no currículo, de promover um diálogo político entre imagens e práticas educativas voltadas à consciência social. Essa concepção de formação crítica e inventiva encontra eco em Imbernón (2000), para quem a formação docente deve ser contínua, crítica e voltada à transformação das práticas pedagógicas, articulando os saberes prévios dos professores com os desafios emergentes da realidade escolar. A oficina propôs essa articulação ao incorporar o cinema como linguagem significativa no processo educativo, contribuindo para o desenvolvimento profissional sensível às múltiplas linguagens atuais. A subjetividade emergiu como elemento central no exercício interpretativo. De acordo com Metz (1980), o espectador projeta no filme suas próprias experiências e, ao mesmo tempo, é atravessado pelos significados simbólicos presentes nas imagens. Esse movimento dialógico — entre técnica e emoção, entre percepção individual e sentidos sociais — foi observado na leitura dos planos, ângulos e sons pelos participantes, que conectaram o visual ao social, o íntimo ao estrutural. Münsterberg (2018) contribui com a noção de que o cinema mobiliza reações afetivas profundas por meio de gestos, luzes e expressões, independentemente da compreensão técnica. Essa sensibilidade foi evidente nas respostas que associaram, por exemplo, o plano médio de uma idosa a memórias afetivas como “casa de vó” ou a leitura de uma personagem como “cansada e triste” pela simples composição da cena. Berger e Luckmann (2004), por sua vez, ajudam a entender como essas leituras se ancoram em construções sociais, onde o pessoal e o coletivo se cruzam com contextos coletivos e institucionais. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS A análise das respostas e interações dos participantes evidenciou que a oficina favoreceu reflexões sobre a intencionalidade da linguagem cinematográfica e sua relação com a formação docente. As atividades mobilizaram interpretações de planos, ângulos, mise-en-scène e trilha sonora, articulando técnica e leitura simbólica. O exercício de leitura de imagens possibilitou conectar experiências subjetivas a temas como desigualdade, representatividade e memória. O processo formativo destacou a articulação entre letramento audiovisual e imaginação sociológica, por meio da leitura crítica de cenas do curta Baile (2019). As contribuições dos grupos revelaram conexões entre linguagem fílmica, vivência docente e análise sociológica, indicando potencial para ampliar práticas pedagógicas mediadas por imagens em movimento. Como encaminhamento, prevê-se a aplicação da oficina em outros contextos escolares, em parceria com instituições de ensino e ações de formação continuada. REFERÊNCIAS BAILE (Summer Ball). Direção: Cíntia Domit Bittar. Brasil, 2019. 18 min. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PO_iwPpkL0Q&t=16s Acesso em: 22 mar. 2025. BERGER, P.; LUCKMANN, T. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 2004. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017. FRESQUET, Adriana. Experiências com professores e estudantes: Formação de professores e atividades na escola: algumas ideias. in: FRESQUET, Adriana. (Org.). Currículo de cinema para escolas de educação básica. 2013. p. 89-98. IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 2000. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 77). KLEIMAN, Angela B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. Campinas: Mercado de Letras, 1995. METZ, C. O significante imaginário: psicanálise e cinema. São Paulo: Perspectiva, 1980. MILLS, C. W. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1969. MÜNSTERBERG, H. A experiência do cinema. In: XAVIER, I. (Org.). A experiência do cinema. 2. ed. São Paulo: Paz & Terra, 2018. SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. VANOYE, F.; GOLIOT-LÉTÉ, A. Ensaio sobre a análise fílmica. Campinas: Papirus, 2012." "modalidade" => "Comunicação Oral" "area_tematica" => "GT 05: FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS E PROFSOCIO: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE ENSINO DE SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA" "palavra_chave" => ", , , , " "idioma" => "Português" "arquivo" => "TRABALHO_COMPLETO_EV222_ID223_TB124_15062025225727.pdf" "created_at" => "2025-07-18 09:56:32" "updated_at" => null "ativo" => 1 "autor_nome" => "JULIANE KELM RAMOS" "autor_nome_curto" => "JULIANE" "autor_email" => "julianekera@gmail.com" "autor_ies" => "UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)" "autor_imagem" => "" "edicao_url" => "anais-do-9-encontro-nacional-de-ensino-de-sociologia-na-educacao-basica" "edicao_nome" => "Anais do 9º Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica" "edicao_evento" => "Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica" "edicao_ano" => 2025 "edicao_pasta" => "anais/eneseb/2025" "edicao_logo" => null "edicao_capa" => "68a722020330f_21082025104122.png" "data_publicacao" => null "edicao_publicada_em" => "2025-07-18 09:24:06" "publicacao_id" => 78 "publicacao_nome" => "Revista ENESEB" "publicacao_codigo" => null "tipo_codigo_id" => 2 "tipo_codigo_nome" => "ISBN" "tipo_publicacao_id" => 1 "tipo_publicacao_nome" => "ANAIS de Evento" ] #original: array:35 [ "id" => 122082 "edicao_id" => 404 "trabalho_id" => 124 "inscrito_id" => 223 "titulo" => "MONTANDO O QUEBRA-CABEÇA: DESMONTAGEM E ANÁLISE FÍLMICA" "resumo" => "INTRODUÇÃO Esta proposta apresenta a oficina Montando o Quebra-Cabeça: Desmontagem e Análise Fílmica, concebida como intervenção pedagógica vinculada ao Programa de Mestrado Profissional em Sociologia em Rede Nacional (PROFSOCIO/UFPR). O objetivo da oficina foi sensibilizar docentes para o uso crítico da linguagem cinematográfica no ensino, articulando os conceitos de letramento audiovisual e imaginação sociológica. O conceito de imaginação sociológica, formulado por Mills (1969), estrutura a proposta. Para o autor, essa habilidade conecta vivências pessoais às estruturas sociais, permitindo compreender que as biografias estão inseridas em contextos culturais e políticos. A oficina propôs, assim, o cinema como linguagem que reflete e constrói realidades sociais. Com base em Soares (2009) e Kleiman (1995), o letramento é entendido como prática social crítica, que ultrapassa a alfabetização técnica. A linguagem audiovisual, nesse contexto, é carregada de sentidos e ideologias. Formar professores para seu uso crítico é também formar sujeitos aptos a ler e intervir no mundo, exercitando a imaginação sociológica. O letramento audiovisual torna-se, portanto, relevante na formação docente, pois desenvolve competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como a expressão por múltiplas linguagens e o uso ético das tecnologias digitais (competências 4 e 5). Para isso, é fundamental investir em formação continuada. Como defende Imbernón (2000), essa formação deve ser crítica, contínua e voltada à transformação das práticas escolares. Com apoio em autores como Vanoye e Goliot-Lété (2012), Metz (1980), Berger e Luckmann (2004) e Münsterberg (2018), a oficina propôs uma abordagem formativa e experiencial para a análise técnica e simbólica do curta Baile (2019), de Cíntia Domit Bittar. A experiência articulou saberes docentes, vivências pessoais e reflexão coletiva, promovendo uma leitura sociológica de uma narrativa marcada pela intersecção entre raça, gênero e espaço público. METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS) A oficina foi organizada em três momentos principais: exibição do curta-metragem Baile (2019); roda de conversa seguida da análise coletiva de uma cena específica (entre os minutos 10:30 e 11:01); e, por fim, uma atividade em grupos. Nessa última etapa, cada grupo trabalhou com um frame do filme, acompanhado de um conjunto de perguntas estruturadas com base nos principais elementos da linguagem cinematográfica: enquadramento, ângulo, mise-en-scène, som e articulação entre eles. As perguntas foram formuladas para estimular a construção de sentidos a partir dos aspectos técnicos analisados, promovendo a identificação de significados sociais implícitos nas imagens. Em vez de conduzir a respostas padronizadas, o material incentivava a interpretação aberta, com questões como: “Que emoções esta imagem desperta?”, “O que os objetos e o figurino dizem sobre a personagem?”, “Há ausência de som? O que isso comunica?”. As produções dos grupos foram sistematizadas em sínteses visuais que reuniam palavras-chave, impressões e interpretações compartilhadas. Além disso, as observações etnográficas possibilitaram compreender como os grupos se envolveram com a atividade e articularam estratégias para interpretar coletivamente os elementos visuais e registrar suas leituras de forma colaborativa. DESENVOLVIMENTO/REFERENCIAL TEÓRICO As análises produzidas da oficina revelaram que os participantes ativaram a imaginação sociológica por meio da leitura crítica de elementos técnicos e simbólicos do filme. A partir de perguntas estruturadas, as respostas demonstraram relações entre emoções, questões sociológicas e interpretações subjetivas, evidenciando que os docentes reconheceram a linguagem cinematográfica como ferramenta de reflexão sobre desigualdades sociais, gênero e pertencimento racial. Nesse processo, o conceito de letramento audiovisual é central: compreendido como a capacidade de ler criticamente as imagens, os sons e as estruturas narrativas (Soares, 2009; Kleiman, 1995), o letramento vai além da decodificação técnica, exigindo a construção de sentidos sociais e culturais. A oficina, ao propor a análise de frames do curta Baile (2019), mobilizou nos docentes uma leitura de mundo por meio da interpretação de imagem, promovendo inserção crítica nas práticas comunicativas contemporâneas. Nesse sentido, ao conceber o cinema como hipótese de alteridade, Fresquet (2013) propõe romper rotinas escolares e criar um espaço formativo em que docentes experimentem a linguagem cinematográfica como exercício crítico e sensível. Trata-se, mais do que inserir o cinema no currículo, de promover um diálogo político entre imagens e práticas educativas voltadas à consciência social. Essa concepção de formação crítica e inventiva encontra eco em Imbernón (2000), para quem a formação docente deve ser contínua, crítica e voltada à transformação das práticas pedagógicas, articulando os saberes prévios dos professores com os desafios emergentes da realidade escolar. A oficina propôs essa articulação ao incorporar o cinema como linguagem significativa no processo educativo, contribuindo para o desenvolvimento profissional sensível às múltiplas linguagens atuais. A subjetividade emergiu como elemento central no exercício interpretativo. De acordo com Metz (1980), o espectador projeta no filme suas próprias experiências e, ao mesmo tempo, é atravessado pelos significados simbólicos presentes nas imagens. Esse movimento dialógico — entre técnica e emoção, entre percepção individual e sentidos sociais — foi observado na leitura dos planos, ângulos e sons pelos participantes, que conectaram o visual ao social, o íntimo ao estrutural. Münsterberg (2018) contribui com a noção de que o cinema mobiliza reações afetivas profundas por meio de gestos, luzes e expressões, independentemente da compreensão técnica. Essa sensibilidade foi evidente nas respostas que associaram, por exemplo, o plano médio de uma idosa a memórias afetivas como “casa de vó” ou a leitura de uma personagem como “cansada e triste” pela simples composição da cena. Berger e Luckmann (2004), por sua vez, ajudam a entender como essas leituras se ancoram em construções sociais, onde o pessoal e o coletivo se cruzam com contextos coletivos e institucionais. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS A análise das respostas e interações dos participantes evidenciou que a oficina favoreceu reflexões sobre a intencionalidade da linguagem cinematográfica e sua relação com a formação docente. As atividades mobilizaram interpretações de planos, ângulos, mise-en-scène e trilha sonora, articulando técnica e leitura simbólica. O exercício de leitura de imagens possibilitou conectar experiências subjetivas a temas como desigualdade, representatividade e memória. O processo formativo destacou a articulação entre letramento audiovisual e imaginação sociológica, por meio da leitura crítica de cenas do curta Baile (2019). As contribuições dos grupos revelaram conexões entre linguagem fílmica, vivência docente e análise sociológica, indicando potencial para ampliar práticas pedagógicas mediadas por imagens em movimento. Como encaminhamento, prevê-se a aplicação da oficina em outros contextos escolares, em parceria com instituições de ensino e ações de formação continuada. REFERÊNCIAS BAILE (Summer Ball). Direção: Cíntia Domit Bittar. Brasil, 2019. 18 min. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PO_iwPpkL0Q&t=16s Acesso em: 22 mar. 2025. BERGER, P.; LUCKMANN, T. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 2004. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2017. FRESQUET, Adriana. Experiências com professores e estudantes: Formação de professores e atividades na escola: algumas ideias. in: FRESQUET, Adriana. (Org.). Currículo de cinema para escolas de educação básica. 2013. p. 89-98. IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez, 2000. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 77). KLEIMAN, Angela B. Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola. Campinas: Mercado de Letras, 1995. METZ, C. O significante imaginário: psicanálise e cinema. São Paulo: Perspectiva, 1980. MILLS, C. W. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1969. MÜNSTERBERG, H. A experiência do cinema. In: XAVIER, I. (Org.). A experiência do cinema. 2. ed. São Paulo: Paz & Terra, 2018. SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. VANOYE, F.; GOLIOT-LÉTÉ, A. Ensaio sobre a análise fílmica. Campinas: Papirus, 2012." "modalidade" => "Comunicação Oral" "area_tematica" => "GT 05: FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS E PROFSOCIO: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DE ENSINO DE SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA" "palavra_chave" => ", , , , " "idioma" => "Português" "arquivo" => "TRABALHO_COMPLETO_EV222_ID223_TB124_15062025225727.pdf" "created_at" => "2025-07-18 09:56:32" "updated_at" => null "ativo" => 1 "autor_nome" => "JULIANE KELM RAMOS" "autor_nome_curto" => "JULIANE" "autor_email" => "julianekera@gmail.com" "autor_ies" => "UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)" "autor_imagem" => "" "edicao_url" => "anais-do-9-encontro-nacional-de-ensino-de-sociologia-na-educacao-basica" "edicao_nome" => "Anais do 9º Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica" "edicao_evento" => "Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica" "edicao_ano" => 2025 "edicao_pasta" => "anais/eneseb/2025" "edicao_logo" => null "edicao_capa" => "68a722020330f_21082025104122.png" "data_publicacao" => null "edicao_publicada_em" => "2025-07-18 09:24:06" "publicacao_id" => 78 "publicacao_nome" => "Revista ENESEB" "publicacao_codigo" => null "tipo_codigo_id" => 2 "tipo_codigo_nome" => "ISBN" "tipo_publicacao_id" => 1 "tipo_publicacao_nome" => "ANAIS de Evento" ] #changes: [] #casts: array:14 [ "id" => "integer" "edicao_id" => "integer" "trabalho_id" => "integer" "inscrito_id" => "integer" "titulo" => "string" "resumo" => "string" "modalidade" => "string" "area_tematica" => "string" "palavra_chave" => "string" "idioma" => "string" "arquivo" => "string" "created_at" => "datetime" "updated_at" => "datetime" "ativo" => "boolean" ] #classCastCache: [] #attributeCastCache: [] #dates: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: false #hidden: [] #visible: [] +fillable: array:13 [ 0 => "edicao_id" 1 => "trabalho_id" 2 => "inscrito_id" 3 => "titulo" 4 => "resumo" 5 => "modalidade" 6 => "area_tematica" 7 => "palavra_chave" 8 => "idioma" 9 => "arquivo" 10 => "created_at" 11 => "updated_at" 12 => "ativo" ] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] }