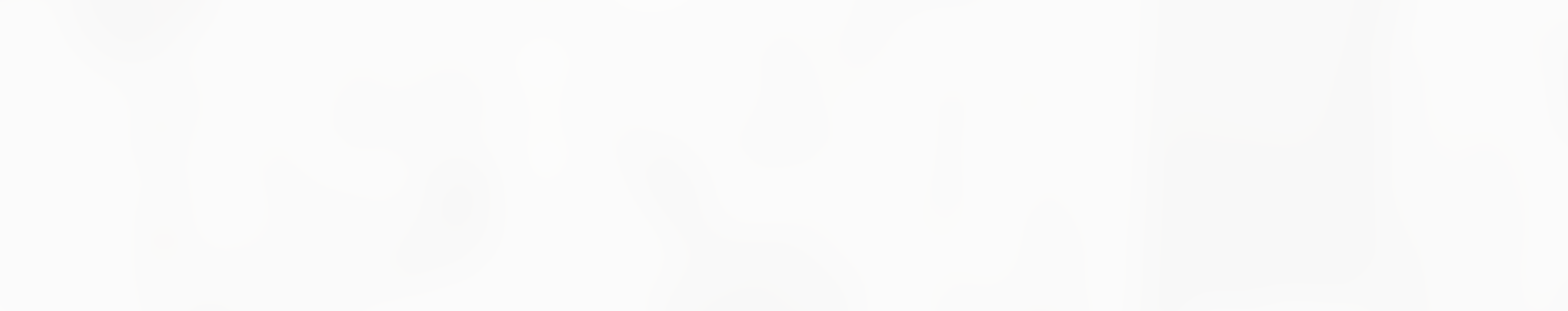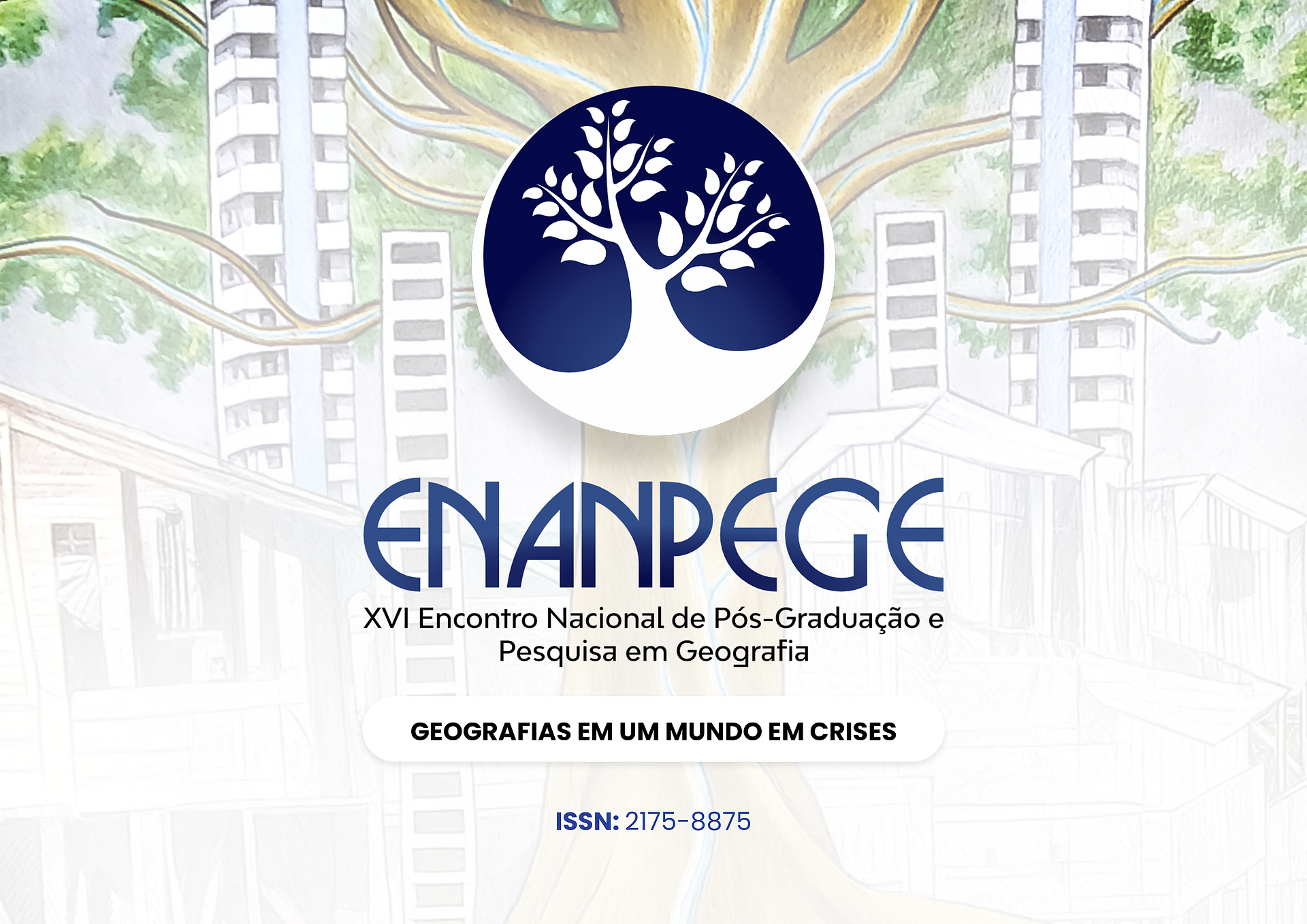ALIMENTOS TRADICIONAIS EM TERRITÓRIOS RURAIS E URBANOS: SABERES, RESISTÊNCIAS E EXISTÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE GARANHUNS/PE E ITABUNA/BA
"2025-11-28" // app/Providers/../Base/Publico/Artigo/resources/show_includes/info_artigo.blade.php
App\Base\Administrativo\Model\Artigo {#1845 // app/Providers/../Base/Publico/Artigo/resources/show_includes/info_artigo.blade.php #connection: "mysql" +table: "artigo" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] +preventsLazyLoading: false #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #escapeWhenCastingToString: false #attributes: array:35 [ "id" => 124398 "edicao_id" => 436 "trabalho_id" => 754 "inscrito_id" => 2465 "titulo" => "ALIMENTOS TRADICIONAIS EM TERRITÓRIOS RURAIS E URBANOS: SABERES, RESISTÊNCIAS E EXISTÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE GARANHUNS/PE E ITABUNA/BA" "resumo" => "INTRODUÇÃO Segundo Baticini e Alves (2021, p. 436), “O ato de comer é identitário [...] por ser símbolo de resistência e existência”. Essas, são facilmente identificadas na apropriação do espaço pelo trabalho e consumo, que tem como resultado (i)material a comida, e esta se torna um vínculo entre os sujeitos sociais, expresso no território. É nessa trama de apropriação, enraizamento, relações de proximidade e existências, de saberes e fazeres que a comida baseada na identidade se torna uma tradição. A proposta aqui apresentada tem como objetivo reconhecer a presença e essência dos alimentos e comidas tradicionais oriundos da mandioca em Garanhuns-PE e Itabuna-BA. Nessa discussão, opta-se por abordar a metodologia qualitativa por meio de entrevistas, observação direta, registro fotográfico e diário de campo. Assim, valoriza-se o participante da pesquisa na condição de ser social sem reduzi-lo a um dado estatístico. O recorte territorial empírico da pesquisa corresponde aos estados de Pernambuco e Bahia que, embora distintos, são ancestralmente ligados pela formação alimentar identitária. Assim, os lócus espaciais da pesquisa expressam singularidades simbólicas nas práticas de comensalidade e consumo, bem como, revelam dinâmicas sociais, culturais e econômicas intrínsecas nos circuitos curtos que perfazem a relação campo-cidade. Pode-se afirmar que o espaço “é formado por um conjunto indissociável, solidário e contraditório, de sistemas de objetos e de sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá” (Santos, 2006, p. 39). Com base nesse entendimento, decidiu-se retratar o espaço rural e urbano por concebê-los como totalidade social. RESULTADOS E DISCUSSÃO Dentre as atividades agroalimentares difundidas no rural, sobressaem as práticas protagonizadas por povos e comunidades tradicionais. A esse respeito, destaca-se no município de Garanhuns/PE o papel exercido pela Comunidade Quilombola Castainho na manutenção de tradições alimentares e estratégias de reprodução social atreladas ao cultivo da mandioca e à produção e comercialização dos seus derivados: farinha, beiju, massa puba e, principalmente, a goma de tapioca. Esses alimentos são elaborados em casas de farinha, unidades de processamento artesanal, cuja origem remete às indústrias domésticas, geralmente, difundidas em estabelecimentos rurais mantidos por segmentos da agricultura familiar (Cruz, 2020). Durante as pesquisas, foram identificadas três casas de farinhas, onde atuam 22 mulheres quilombolas. Todas as unidades produtivas apresentam estruturas em alvenaria e dispõem de utensílios e ferramentas artesanais como triturador, prensa e forno a lenha. Foi constatado, ainda, que o trabalho de processamento dos alimentos é realizado por membros familiares. A transmissibilidade de saberes, das mães para suas filhas, configura uma tradição cultural e intergeracional (Thompson, 1993), partilhada pelas famílias quilombolas. Para Claval (2001), a família e a comunidade local são matrizes fundamentais na difusão da cultura, que constituem parte essencial da vida dos grupos sociais. A perspectiva do trabalho sob a lógica simbólica da partilha e da sociabilidade, também é verificado no cultivo da mandioca. As práticas de manejo desse alimento, que incluem o corte da maniva (caule da mandioca), a plantio das estacas, a limpeza artesanal do roçado e a “arranca” do tubérculo, configuram práticas realizadas de forma coletiva em pequenos cercados. Em períodos de elevada produção, a demanda por força de trabalho é suprida pelos quilombolas da comunidade, que organizados em mutirões, fazem do labor uma prática de reciprocidade entre seus pares. Experiências de convivialidade alicerçadas no trabalho coletivo são remetidas por Brandão (1981) como elementos que perfazem o modo de vida de famílias rurais e de comunidades tradicionais do campo. Todavia, o aumento do consumo dos derivados da mandioca nos espaços urbanos tem intensificado alterações na cadeia produtiva dos alimentos e, consequentemente, nas relações sociais, econômicas e de trabalho. Embora não seja uma prática constante, há períodos em que a demanda pelos alimentos transcende a produção de mandioca na comunidade e no município. Nessas ocasiões, complementa-se a quantidade da matéria-prima mediante a aquisição de tubérculos em outros territórios rurais do Agreste de Pernambuco e Alagoas. Dinâmica semelhante também foi observada por Rezende e Menezes (2013) no munícipio de Itabaiana/SE. De acordo com os autores, na escassez da mandioca para elaboração de seus derivados, é recorrente o fornecimento do produto por outros estados da região Nordeste. Os alimentos produzidos no Castainho são comercializados em feiras livres do espaço citadino de Garanhuns. Esses ambientes de relações sociais e consumo demonstram o fortalecimento de circuitos curtos, que se consolidam como estratégias de comercialização dos bens produzidos pelas famílias quilombolas. No Sul da Bahia, município de Itabuna, a utilização dos derivados de mandioca nos espaços de comercialização aparece na forma de comida de rua. A farinha de mandioca “É certamente a maior contribuição que nos trouxe a cultura indígena” (Prado Júnior, 1961, p. 160), se popularizou, tornou-se “[...] a rainha de todas as mesas baianas” (Bacelar, 2013, p. 279) na Bahia do século XIX até os dias atuais. Nas ruas de Itabuna, a farofa, “que nada mais é que junção da farinha de mandioca [...] com outros ingredientes” (Barsalini, 2020, p. 18), se une à banana da terra para compor uma das versões mais populares desse alimento. É um acompanhamento para o almoço, como também serve para cobrir o espetinho de churrasco, configurando um alimento identitário para os baianos. Segundo Cascudo, “A mandioca vivia nos dois elementos inarredáveis da alimentação indígena: - a farinha e os beijus” (1967, p. 95). Ao passo que a farinha está relacionada aos “[...] vocábulos fartos, fartura, repleto ou abundância [...]” (Idem, p. 31), comumente encontrados nas comidas de rua do almoço e do jantar na forma de farofa e em adição ao feijão tropeiro, os beijus estão relacionados ao café da manhã ou ao lanche. Menezes, ao estudar os beijus em Sergipe, aponta para a necessidade de valorização das iguarias tradicionais no presente no tocante às políticas públicas, como também enfatiza a contribuição “dos grupos formadores do povo brasileiro” na composição da cozinha nordestina pela “influência indígena no beneficiamento da mandioca a influência portuguesa com a utilização das especiarias como o cravo e canela, e a africana, no emprego do coco seco” (2014, p. 3) nos mais variados pratos que levam a mandioca como alimento principal tais como a tapioca, o mingau, bolos, vaca atolada, carne assada com mandioca, farofa, escondidinho, entre outros. A comida como vínculo territorial está alicerçada na cultura e, portanto, na identidade. Brandão a chamou de comida do lugar ao elaborar um estudo antropológico que passa da terra à mesa, fazendo uma “[...] trajetória desde os tempos antigos para os dias de hoje” (1981, p. 10), no qual investigou as práticas alimentares dos moradores do município de Mossâmedes-GO. Embora a comercialização da comida de rua baseada no alimento identitário mandioca aconteça no espaço urbano, os consumidores são provenientes do rural e de diversos municípios vizinhos. Itabuna lidera, na região Sul da Bahia, as atividades relacionadas ao comércio varejista, serviços médicos, comunicação, educação universitária e outras atividades. Essa comida identitária é fundamental para o café da manhã nas ruas da cidade a um preço acessível, com um cardápio conhecido e confiável. CONSIDERAÇÕES FINAIS A alimentação baseada nos derivados da mandioca permanece, no cotidiano, por estar enraizado na cultura nordestina por meio da ancestralidade, dos saberes e fazeres, da produção e comercialização da comida alicerçada na identidade regional. Assim, o modo de fazer a comida possui uma relação direta com a cultura, bem como, o conjunto de alimentos que são eleitos/aceitos como comestíveis, são esses elementos agrupados que formam a cozinha de cada lugar. Ao transmitirem os saberes agroalimentares, as mulheres e homens, no rural e no urbano contribuem para a manutenção de um modo de vida e práticas tradicionais que dialogam com a ancestralidade do grupo social. As atividades de cultivo e comercialização demonstram, ainda, a importância dos alimentos na definição de identidades, territorialidades e modus operandi de resistência e existência. Os derivados da mandioca também configuram a principal fonte de renda das famílias e comunidades cultivadoras, assim como, das que comercializam bolos, mingaus e bejus. A comercialização dos produtos ocorre em circuitos curtos, que emergem como uma alternativa aos modelos hegemônicos de distribuição de alimentos. Essa rede social dos mais vulneráveis permite a solidificação das tradições da cultura alimentar nordestina." "modalidade" => "Comunicação Oral" "area_tematica" => "GT 04: GEOGRAFIA DOS ALIMENTOS: TRADIÇÃO, RESSIGNIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO DOS SABERES E FAZERES NO CAMPO E NA CIDADE" "palavra_chave" => ", , , , " "idioma" => "Português" "arquivo" => "TRABALHO_COMPLETO_EV223_ID2465_TB754_03112025190600.pdf" "created_at" => "2025-11-28 14:08:46" "updated_at" => null "ativo" => 1 "autor_nome" => "GREIZIENE ARAUJO QUEIROZ DE SOUSA" "autor_nome_curto" => "GREIZIENE" "autor_email" => "greiziene@gmail.com" "autor_ies" => "UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)" "autor_imagem" => "" "edicao_url" => "anais-do-xvi-encontro-nacional-de-pos-graduacao-e-pesquisa-em-geografia" "edicao_nome" => "Anais do XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia" "edicao_evento" => "XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia" "edicao_ano" => 2025 "edicao_pasta" => "anais/enanpege/2025" "edicao_logo" => null "edicao_capa" => "692988483d31e_28112025083224.png" "data_publicacao" => "2025-11-28" "edicao_publicada_em" => "2025-11-27 15:13:16" "publicacao_id" => 79 "publicacao_nome" => "Revista ENANPEGE" "publicacao_codigo" => "2175-8875" "tipo_codigo_id" => 1 "tipo_codigo_nome" => "ISSN" "tipo_publicacao_id" => 1 "tipo_publicacao_nome" => "ANAIS de Evento" ] #original: array:35 [ "id" => 124398 "edicao_id" => 436 "trabalho_id" => 754 "inscrito_id" => 2465 "titulo" => "ALIMENTOS TRADICIONAIS EM TERRITÓRIOS RURAIS E URBANOS: SABERES, RESISTÊNCIAS E EXISTÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE GARANHUNS/PE E ITABUNA/BA" "resumo" => "INTRODUÇÃO Segundo Baticini e Alves (2021, p. 436), “O ato de comer é identitário [...] por ser símbolo de resistência e existência”. Essas, são facilmente identificadas na apropriação do espaço pelo trabalho e consumo, que tem como resultado (i)material a comida, e esta se torna um vínculo entre os sujeitos sociais, expresso no território. É nessa trama de apropriação, enraizamento, relações de proximidade e existências, de saberes e fazeres que a comida baseada na identidade se torna uma tradição. A proposta aqui apresentada tem como objetivo reconhecer a presença e essência dos alimentos e comidas tradicionais oriundos da mandioca em Garanhuns-PE e Itabuna-BA. Nessa discussão, opta-se por abordar a metodologia qualitativa por meio de entrevistas, observação direta, registro fotográfico e diário de campo. Assim, valoriza-se o participante da pesquisa na condição de ser social sem reduzi-lo a um dado estatístico. O recorte territorial empírico da pesquisa corresponde aos estados de Pernambuco e Bahia que, embora distintos, são ancestralmente ligados pela formação alimentar identitária. Assim, os lócus espaciais da pesquisa expressam singularidades simbólicas nas práticas de comensalidade e consumo, bem como, revelam dinâmicas sociais, culturais e econômicas intrínsecas nos circuitos curtos que perfazem a relação campo-cidade. Pode-se afirmar que o espaço “é formado por um conjunto indissociável, solidário e contraditório, de sistemas de objetos e de sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá” (Santos, 2006, p. 39). Com base nesse entendimento, decidiu-se retratar o espaço rural e urbano por concebê-los como totalidade social. RESULTADOS E DISCUSSÃO Dentre as atividades agroalimentares difundidas no rural, sobressaem as práticas protagonizadas por povos e comunidades tradicionais. A esse respeito, destaca-se no município de Garanhuns/PE o papel exercido pela Comunidade Quilombola Castainho na manutenção de tradições alimentares e estratégias de reprodução social atreladas ao cultivo da mandioca e à produção e comercialização dos seus derivados: farinha, beiju, massa puba e, principalmente, a goma de tapioca. Esses alimentos são elaborados em casas de farinha, unidades de processamento artesanal, cuja origem remete às indústrias domésticas, geralmente, difundidas em estabelecimentos rurais mantidos por segmentos da agricultura familiar (Cruz, 2020). Durante as pesquisas, foram identificadas três casas de farinhas, onde atuam 22 mulheres quilombolas. Todas as unidades produtivas apresentam estruturas em alvenaria e dispõem de utensílios e ferramentas artesanais como triturador, prensa e forno a lenha. Foi constatado, ainda, que o trabalho de processamento dos alimentos é realizado por membros familiares. A transmissibilidade de saberes, das mães para suas filhas, configura uma tradição cultural e intergeracional (Thompson, 1993), partilhada pelas famílias quilombolas. Para Claval (2001), a família e a comunidade local são matrizes fundamentais na difusão da cultura, que constituem parte essencial da vida dos grupos sociais. A perspectiva do trabalho sob a lógica simbólica da partilha e da sociabilidade, também é verificado no cultivo da mandioca. As práticas de manejo desse alimento, que incluem o corte da maniva (caule da mandioca), a plantio das estacas, a limpeza artesanal do roçado e a “arranca” do tubérculo, configuram práticas realizadas de forma coletiva em pequenos cercados. Em períodos de elevada produção, a demanda por força de trabalho é suprida pelos quilombolas da comunidade, que organizados em mutirões, fazem do labor uma prática de reciprocidade entre seus pares. Experiências de convivialidade alicerçadas no trabalho coletivo são remetidas por Brandão (1981) como elementos que perfazem o modo de vida de famílias rurais e de comunidades tradicionais do campo. Todavia, o aumento do consumo dos derivados da mandioca nos espaços urbanos tem intensificado alterações na cadeia produtiva dos alimentos e, consequentemente, nas relações sociais, econômicas e de trabalho. Embora não seja uma prática constante, há períodos em que a demanda pelos alimentos transcende a produção de mandioca na comunidade e no município. Nessas ocasiões, complementa-se a quantidade da matéria-prima mediante a aquisição de tubérculos em outros territórios rurais do Agreste de Pernambuco e Alagoas. Dinâmica semelhante também foi observada por Rezende e Menezes (2013) no munícipio de Itabaiana/SE. De acordo com os autores, na escassez da mandioca para elaboração de seus derivados, é recorrente o fornecimento do produto por outros estados da região Nordeste. Os alimentos produzidos no Castainho são comercializados em feiras livres do espaço citadino de Garanhuns. Esses ambientes de relações sociais e consumo demonstram o fortalecimento de circuitos curtos, que se consolidam como estratégias de comercialização dos bens produzidos pelas famílias quilombolas. No Sul da Bahia, município de Itabuna, a utilização dos derivados de mandioca nos espaços de comercialização aparece na forma de comida de rua. A farinha de mandioca “É certamente a maior contribuição que nos trouxe a cultura indígena” (Prado Júnior, 1961, p. 160), se popularizou, tornou-se “[...] a rainha de todas as mesas baianas” (Bacelar, 2013, p. 279) na Bahia do século XIX até os dias atuais. Nas ruas de Itabuna, a farofa, “que nada mais é que junção da farinha de mandioca [...] com outros ingredientes” (Barsalini, 2020, p. 18), se une à banana da terra para compor uma das versões mais populares desse alimento. É um acompanhamento para o almoço, como também serve para cobrir o espetinho de churrasco, configurando um alimento identitário para os baianos. Segundo Cascudo, “A mandioca vivia nos dois elementos inarredáveis da alimentação indígena: - a farinha e os beijus” (1967, p. 95). Ao passo que a farinha está relacionada aos “[...] vocábulos fartos, fartura, repleto ou abundância [...]” (Idem, p. 31), comumente encontrados nas comidas de rua do almoço e do jantar na forma de farofa e em adição ao feijão tropeiro, os beijus estão relacionados ao café da manhã ou ao lanche. Menezes, ao estudar os beijus em Sergipe, aponta para a necessidade de valorização das iguarias tradicionais no presente no tocante às políticas públicas, como também enfatiza a contribuição “dos grupos formadores do povo brasileiro” na composição da cozinha nordestina pela “influência indígena no beneficiamento da mandioca a influência portuguesa com a utilização das especiarias como o cravo e canela, e a africana, no emprego do coco seco” (2014, p. 3) nos mais variados pratos que levam a mandioca como alimento principal tais como a tapioca, o mingau, bolos, vaca atolada, carne assada com mandioca, farofa, escondidinho, entre outros. A comida como vínculo territorial está alicerçada na cultura e, portanto, na identidade. Brandão a chamou de comida do lugar ao elaborar um estudo antropológico que passa da terra à mesa, fazendo uma “[...] trajetória desde os tempos antigos para os dias de hoje” (1981, p. 10), no qual investigou as práticas alimentares dos moradores do município de Mossâmedes-GO. Embora a comercialização da comida de rua baseada no alimento identitário mandioca aconteça no espaço urbano, os consumidores são provenientes do rural e de diversos municípios vizinhos. Itabuna lidera, na região Sul da Bahia, as atividades relacionadas ao comércio varejista, serviços médicos, comunicação, educação universitária e outras atividades. Essa comida identitária é fundamental para o café da manhã nas ruas da cidade a um preço acessível, com um cardápio conhecido e confiável. CONSIDERAÇÕES FINAIS A alimentação baseada nos derivados da mandioca permanece, no cotidiano, por estar enraizado na cultura nordestina por meio da ancestralidade, dos saberes e fazeres, da produção e comercialização da comida alicerçada na identidade regional. Assim, o modo de fazer a comida possui uma relação direta com a cultura, bem como, o conjunto de alimentos que são eleitos/aceitos como comestíveis, são esses elementos agrupados que formam a cozinha de cada lugar. Ao transmitirem os saberes agroalimentares, as mulheres e homens, no rural e no urbano contribuem para a manutenção de um modo de vida e práticas tradicionais que dialogam com a ancestralidade do grupo social. As atividades de cultivo e comercialização demonstram, ainda, a importância dos alimentos na definição de identidades, territorialidades e modus operandi de resistência e existência. Os derivados da mandioca também configuram a principal fonte de renda das famílias e comunidades cultivadoras, assim como, das que comercializam bolos, mingaus e bejus. A comercialização dos produtos ocorre em circuitos curtos, que emergem como uma alternativa aos modelos hegemônicos de distribuição de alimentos. Essa rede social dos mais vulneráveis permite a solidificação das tradições da cultura alimentar nordestina." "modalidade" => "Comunicação Oral" "area_tematica" => "GT 04: GEOGRAFIA DOS ALIMENTOS: TRADIÇÃO, RESSIGNIFICAÇÃO, VALORIZAÇÃO DOS SABERES E FAZERES NO CAMPO E NA CIDADE" "palavra_chave" => ", , , , " "idioma" => "Português" "arquivo" => "TRABALHO_COMPLETO_EV223_ID2465_TB754_03112025190600.pdf" "created_at" => "2025-11-28 14:08:46" "updated_at" => null "ativo" => 1 "autor_nome" => "GREIZIENE ARAUJO QUEIROZ DE SOUSA" "autor_nome_curto" => "GREIZIENE" "autor_email" => "greiziene@gmail.com" "autor_ies" => "UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)" "autor_imagem" => "" "edicao_url" => "anais-do-xvi-encontro-nacional-de-pos-graduacao-e-pesquisa-em-geografia" "edicao_nome" => "Anais do XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia" "edicao_evento" => "XVI Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia" "edicao_ano" => 2025 "edicao_pasta" => "anais/enanpege/2025" "edicao_logo" => null "edicao_capa" => "692988483d31e_28112025083224.png" "data_publicacao" => "2025-11-28" "edicao_publicada_em" => "2025-11-27 15:13:16" "publicacao_id" => 79 "publicacao_nome" => "Revista ENANPEGE" "publicacao_codigo" => "2175-8875" "tipo_codigo_id" => 1 "tipo_codigo_nome" => "ISSN" "tipo_publicacao_id" => 1 "tipo_publicacao_nome" => "ANAIS de Evento" ] #changes: [] #casts: array:14 [ "id" => "integer" "edicao_id" => "integer" "trabalho_id" => "integer" "inscrito_id" => "integer" "titulo" => "string" "resumo" => "string" "modalidade" => "string" "area_tematica" => "string" "palavra_chave" => "string" "idioma" => "string" "arquivo" => "string" "created_at" => "datetime" "updated_at" => "datetime" "ativo" => "boolean" ] #classCastCache: [] #attributeCastCache: [] #dates: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: false #hidden: [] #visible: [] +fillable: array:13 [ 0 => "edicao_id" 1 => "trabalho_id" 2 => "inscrito_id" 3 => "titulo" 4 => "resumo" 5 => "modalidade" 6 => "area_tematica" 7 => "palavra_chave" 8 => "idioma" 9 => "arquivo" 10 => "created_at" 11 => "updated_at" 12 => "ativo" ] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] }